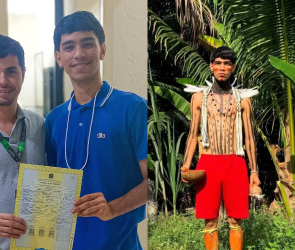Honestamente, não consigo contabilizar a quantidade de solenidades nas quais trabalhei, em que o hino do estado do Piauí era cantado e exaltado na abertura. E, em certo momento da música, há um trecho cruel que me indigna a escutar.
O estado, assim como o Brasil, é terra indígena. O Piauí é terra indígena! Municípios, estados e países são conceitos inventados, e, apesar de parecer óbvio, é necessário que se faça essa compreensão e análise consciente. Essas terras não possuíam esses nomes nem essas demarcações geográficas: eram espaços habitados por comunidades nativas. Com a invasão dos monstros da colonização, os povos que aqui existiam foram sendo cruel e desumanamente exterminados.
No Piauí, a história ensinada foi escrita pela mão do colonizador. Ao analisar a árvore genealógica das famílias que dominaram as instituições públicas e formaram o que consumimos como indivíduos piauienses, entendemos como a história que nos contam pode, sim, ser manipulada em prol dos interesses de quem a provém. Portanto, não ouvimos falar, não nos ensinam ,o nome das etnias Acroás, Araioses, Aruás, Cariris, Gueguês, Jaicozes, Tabajaras, Tacarijus, Tremembés ou Pimenteiras. A ausência da presença desses nomes é, em si, uma forma de silenciamento.
Os índios fervilhavam como formigas às margens dos rios e vales do Piauí
Frase escrita pelo padre Joaquim Chaves e publicada em seu livro O índio no solo piauiense (1953), desperta a consciência sobre a noção quantitativa dos nossos antepassados por aqui. Existem pesquisas evidenciando que, em 1772, cerca de 1.867 indígenas, entre Acroás e outros grupos, viviam em aldeias ou espalhados pelas fazendas do estado.

Apesar de estudos de autores como Monsenhor Chaves, João Gabriel Baptista e Moysés Castello Branco retratarem os indígenas como sujeitos ativos, eles frequentemente aparecem na historiografia como dominados ou vítimas passivas do confronto cultural.
O hino do Piauí foi composto por Antônio Francisco da Costa e Silva, com música de Firmina Sobreira Cardoso e Leopoldo Damascena Ferreira, e adotado em 1923 como hino do estado. No trecho:
Desbravando-te os campos distantes /
Na missão do trabalho e da paz, /
A aventura de dois bandeirantes /
A semente da pátria nos traz.
houve o entendimento, por parte de historiadores contemporâneos, de que a 3ª estrofe do hino faz menção poética a dois bandeirantes, silenciando brutalmente as violências cometidas por eles contra os povos nativos no respectivo período histórico, exaltando criminosos.
A respeito disso, no livro A incoerência histórica do hino do Piauí e verdades estabelecidas, o historiador Adrião José Neto afirma:
Na estrofe ‘Desbravando-te os campos distantes / Na missão do trabalho e da paz / A aventura de dois bandeirantes / A semente da pátria nos traz’, o autor, ao exaltar os dois bandeirantes (Domingos Jorge Velho e Domingos Afonso Mafrense), fala em ‘aventura’ e ‘na missão do trabalho e da paz’, sem atentar para o detalhe de que aventura é coisa de aventureiro, e que o trabalho, ou um dos trabalhos dos bandeirantes, era guerrear contra os índios para lhes tomar terras e aprisionar os sobreviventes para o trabalho escravo. A paz propalada pelo poeta constitui-se apenas tão somente numa rima. Nessa missão rotulada pelo poeta como do ‘trabalho e da paz’, eles, os dois bandeirantes e muitos outros aventureiros, promoveram a guerra. Como comandantes das expedições paramilitares, patrocinaram grandes carnificinas, matando, esfolando e exterminando nações inteiras, dando péssimo exemplo aos seus seguidores [elites latifundiárias], que não sossegaram enquanto não eliminaram o último índio de solo piauiense.
O pesquisador piauiense Roberto Alencar complementa:
O Hino do Piauí contém um dos mais graves erros históricos cometidos pelo poeta Da Costa e Silva, considerado o maior poeta piauiense. Isso, se considerarmos o processo de revisão pelo qual passou a História Oficial, hoje intitulada de Nova História. Leia-se a estrofe em que esse erro é cometido: ‘Desbravando-te os campos distantes / Na missão do trabalho e da paz / A aventura de dois bandeirantes / A semente da pátria nos traz’.
É necessário compreender e recordar que Domingos Jorge Velho e Domingos Afonso Mafrense foram responsáveis por massacres e pelo extermínio de povos indígenas no Piauí e em outras regiões do Brasil, como o grande Quilombo dos Palmares.
Estudar sobre o extermínio indígena no Piauí consiste em entender que ocorreram três momentos: primeiro, no início do século XVII, com conflitos entre indígenas e os primeiros proprietários de terras; depois, entre os séculos XVII e XVIII, com os sesmeiros; e, por fim, do final do século XVIII até o início do XIX, com os descendentes desses proprietários. A colonização envolveu guerra de extermínio, expulsão, preamento (aprisionamento para trabalho escravo) e redução (captura após rendição), deixando a população indígena praticamente invisível nos registros oficiais.

A historiografia acadêmica, no entanto, trouxe à tona a “face oculta” dessa história. Pesquisas como as de Odilon Nunes, Moysés Castello Branco e João Gabriel Baptista revelam a existência de dezenas de tribos e etnias que habitavam o Piauí ,entre Jê, Tupi, Cariri e Caraíba, totalizando cerca de 158 tribos. Esses estudos reconstroem a presença indígena, estimando que cerca de 316 mil pessoas viviam em territórios piauienses antes do genocidio promovido pelos colonizadores.
O hino do Piauí, portanto, não apenas silencia essa história, mas também transforma exterminadores em heróis. Cantar essas palavras nas escolas e solenidades significa perpetuar uma narrativa que omite massacres e apagamento cultural. É necessário, ao revisitar o hino, confrontar essa falácia e propor mudanças que representem de fato a memória e a diversidade do Piauí.
Talvez lançar um concurso para eleger a substituição do trecho, por parte das autoridades institucionais, seja uma mitigação viável. Mas é preciso, para além disso, resgatar os nomes e as histórias daqueles que foram mortos, saqueados e injustiçados. O Piauí que conhecemos hoje( entendendo cultura, território e povo) é herdeiro de uma memória complexa, marcada por multifacetas de resistência e apagamento.
Alterar a narrativa do hino, ou ao menos contextualizá-lo, não é apenas uma questão de correção histórica, mas um ato de justiça cosmológica. Cantar com consciência significa reconhecer o que foi feito, honrar os que resistiram e reconstruir uma identidade que inclua todos os povos que aqui viveram e ainda vivem.
Fontes consultadas
- CHAVES, Joaquim. O índio no solo piauiense. Teresina, 1953.
- NETO, Adrião José. A incoerência histórica do hino do Piauí e verdades estabelecidas. Teresina: Edição do autor, 2006.
- ALENCAR, Roberto. O Hino do Piauí: análise crítica e historiográfica.
- Portal Piracuruca – O massacre do Padre Pinto
- II Seminário Nacional de Fontes Históricas – Aldeamentos Indígenas e os Pactos da Ordenação (2011)
- Blog Maestro Rocha Sousa – O Hino do Piauí
- Revista Interação, v. 23, n. 1 (2023)